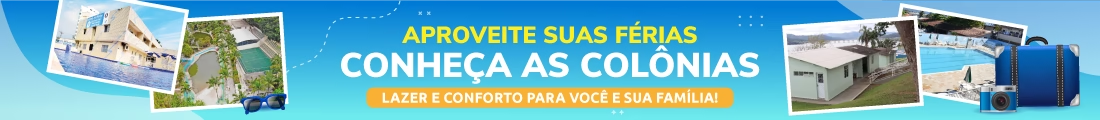Por Gabriel Alexandre Gonçalves*
A incorporação de instrumentos econômicos na gestão dos recursos hídricos tem sido apresentada, em diversas partes do mundo, como uma estratégia para promover eficiência, racionalidade no uso e sustentabilidade financeira dos sistemas de abastecimento. Nesse âmbito, a precificação da água, os mecanismos de cobrança e a criação de mercados de direitos de uso constituem pilares centrais de um movimento mais amplo de commodificação da água, no qual o recurso deixa de ser tratado exclusivamente como um bem comum e passa a ser representado como um ativo econômico negociável.
No debate internacional, sobretudo a partir das experiências da Austrália, dos Estados Unidos e de alguns países europeus, os mercados de água têm sido estruturados como ferramentas de alocação “eficiente” em contextos de escassez, permitindo a compra e venda de direitos de uso entre agentes públicos e privados. Essas iniciativas se apoiam na concepção neoliberal de que sinais de preço induzem decisões racionais e otimizam o uso dos recursos naturais. Contudo, tais instrumentos também intensificam processos de financeirização, na medida em que direitos de uso passam a se comportar como contratos negociáveis, ensejando novos mercados e formas de rentismo.
No Brasil, embora não exista um mercado formal de água nos moldes australianos, diversos elementos dessa lógica vêm se consolidando. A Política Nacional de Recursos Hídricos introduziu a cobrança pelo uso, mecanismo que, embora formulado como instrumento de gestão, abre espaço para dinâmicas de valorização econômica associadas ao controle de outorgas e à capacidade de pagamento dos usuários. Em paralelo, a expansão de concessões privadas no setor de saneamento, intensificada após o Novo Marco Legal (Lei nº 14.026/2020), cria um ambiente favorável à consolidação da água como ativo financeiro, sobretudo pela entrada de grandes fundos de investimento no controle de companhias estaduais e regionais.
Nesse cenário, observa-se a emergência de práticas que, mesmo sem configurarem mercados de água formais, reproduzem sua lógica central: priorização de usos economicamente mais rentáveis, hierarquização territorial de investimentos e aumento das assimetrias entre usuários. A disputa em torno da SABESP, por exemplo, revela o avanço de processos de rentismo hídrico, nos quais tarifas, contratos de concessão e fluxos futuros de receita passam a compor carteiras de investimento e a beneficiar grupos financeiros em detrimento da garantia universal do direito à água.
Como expressão concreta desse processo, a empresa paulista apresenta cifras elevadas de lucratividade. Em 2023, registrou um lucro líquido consolidado de R$ 3,523 bilhões e, após a privatização, o lucro contábil, sem os ajustes decorrentes da transação, alcançou R$ 5,17 bilhões. Essa riqueza, gerada a partir das tarifas cobradas em 375 municípios, organizados em uma Unidade Regional de Abastecimento de Água e Esgotamento (URAE Sudeste), regula as possibilidades de renda por meio da metodologia de precificação conhecida como price cap (preço-limite), aplicada pela agência reguladora (ARSESP). Tais processos estabelecem condições apontadas como confiáveis, tanto pelas cifras envolvidas quanto pela organização espacial, tornando-se atrativos à financeirização, isto é, aos mercados de ações, e expressando um movimento mundial de transformação da água em ativo.
Assim, o debate brasileiro insere-se criticamente nas discussões globais sobre mercados de água e instrumentos econômicos. Embora a legislação nacional reconheça a água como um bem de domínio público e de uso comum, a crescente presença de agentes privados e financeiros produz tensões entre os princípios de gestão democrática e a lógica de valorização econômica do recurso. No país, portanto, a discussão sobre commodificação da água não pode ser dissociada das desigualdades socioespaciais e das assimetrias de poder que caracterizam o acesso à água e ao saneamento.
Desse modo, compreender a relação entre precificação, mercados de água e governança no Brasil exige reconhecer que os instrumentos econômicos, quando aplicados em um contexto de forte desigualdade social, podem reforçar mecanismos de exclusão e aprofundar a financeirização dos serviços hídricos. Ao invés de promover eficiência e sustentabilidade, tais instrumentos tendem a subordinar a política hídrica aos interesses de mercado, enfraquecendo seu caráter de direito humano essencial e de bem comum indispensável à reprodução da vida.
O debate sobre “mercados de água” tem ganhado espaço no Brasil, muitas vezes importando conceitos e experiências de outros países sem o devido cuidado com as especificidades institucionais e jurídicas nacionais. Quando se observa mais de perto a realidade brasileira, o que aparece não é a existência de mercados formais de água, mas um conjunto de mecanismos que introduzem, de forma fragmentada, uma lógica de valoração econômica, de captura de renda e de financeirização associada ao controle e à operação dos serviços hídricos e de saneamento.
A principal aproximação conceitual costuma ser a cobrança pelo uso da água em rios federais e estaduais. Trata-se de um instrumento econômico-regulatório, previsto na Política Nacional de Recursos Hídricos – Lei nº 9.433, 08/01/97, em seu artigo 5º, inciso IV- cobrança pelo uso de recursos hídricos), cuja função é internalizar custos ambientais, induzir a racionalização do uso e sinalizar escassez relativa. Ao atribuir um valor monetário ao uso industrial, agrícola e urbano, a cobrança cria algo próximo a um “preço-sinal”, frequentemente associado aos debates internacionais sobre mercados. No entanto, essa analogia encontra limites claros: não há negociação entre usuários, não há compra e venda de direitos, nem transferência de volumes outorgados. A cobrança não cria mercados de água, mas introduz uma lógica de valoração econômica que reconfigura a relação entre uso, custo e gestão do recurso.
É no setor de saneamento que a aproximação com dinâmicas de mercado se torna mais evidente, ainda que de forma indireta. A privatização de operadores estaduais, a abertura de capital de empresas e a disputa entre grupos privados por concessões transformaram as tarifas em ativos rentáveis. Nesse arranjo, o que circula no mercado não é a água em si, mas as empresas e os contratos que controlam sua captação, tratamento e distribuição. Para a economia política da água, esse processo deve ser entendido como mercantilização via tarifa e via prestação de serviços, e não como a criação de mercados de direitos de uso da água. A água permanece formalmente pública, mas sua gestão cotidiana passa a obedecer a lógicas de rentabilidade e valorização do capital.
Os novos arranjos regulatórios e regionais – já mencionado acima -, como as Unidades Regionais de Abastecimento de Água e Esgotamento (URAEs) em São Paulo, aprofundam essa tendência ao criar “quase-mercados”. Com o Novo Marco Legal do Saneamento (Lei nº 14.026/2020), institui-se uma competição regulada por concessões, estruturada em blocos regionais. Tarifas, subsídios cruzados, metas de universalização e indicadores de desempenho passam a compor pacotes de valor disputados por operadores privados. Embora a titularidade da água continue sendo pública, o controle operacional e tarifário torna-se objeto de mercado, gerando rendas territorializadas apropriáveis pelas concessionárias.
Essa dinâmica se conecta diretamente à financeirização do setor. O crescimento das debêntures (títulos de dívida emitidos pelas empresas) de infraestrutura, a atuação de fundos de investimento em participações, a valorização de ações de empresas de saneamento e a emissão de títulos verdes criam um mercado financeiro fortemente ancorado nos fluxos futuros de caixa gerados pela cobrança de tarifas. Não se vende água, mas expectativas de receita associadas ao seu uso e à sua distribuição. A mercantilização, nesse caso, é financeira: a água funciona como lastro de ativos e não como mercadoria direta.
Por isso, é fundamental também destacar o que não existe no Brasil. Não há compra e venda de outorgas, não há mercados de direitos de água, não existem cotas transferíveis entre usuários, nem mecanismos de water trading entre setores produtivos. Ainda! Essa ausência não é detalhe técnico, mas elemento central para compreender o modelo brasileiro em suas expressões de afirmação e negação do mercado da água.
Dessa maneira, fica pouco nítida as manobras dos setores do capital que pretendem torná-la em ativo. Aqui, a commodificação da água se expressa pela transformação do recurso em propriedade negociável e mais pela tarifação, pela concessão de serviços e pela financeirização das infraestruturas. Reconhecer essa diferença é decisiva para a compreensão dos estratagemas do capital em transformar a água em mercadoria.
*Gabriel Alexandre Gonçalves é militante do MAB, doutor em Geografia pela Fct Unesp, membro do Centro de Estudos de Geografia do Trabalho (Caget/ FCT Unesp) e do Laboratório de Estudos e Projetos Urbanos e Regionais (LEPUR)/UFABC.