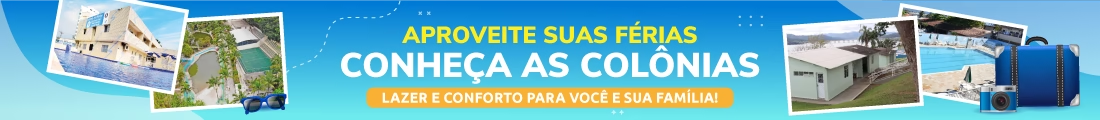Em entrevista ao Portal O Joio e o Trigo, o pesquisador e coordenador do Observatório da Questão Hídrica, um projeto de extensão vinculado ao campus de Fortaleza do Instituto Federal do Ceará (IFCE), Diego Gadelha, fala do histórico de injustiça hídrica no semiárido nordestino e de como essa desigualdade lançou as bases para a formação de polos exportadores de frutas
O pesquisador relaciona os recordes na exportação de frutas e sua relação com a privatização da água. Segundo ele, em 2021, o agronegócio comemorou um faturamento de US$ 1,21 bilhão, 20% a mais que no ano anterior. O volume exportado também saltou em 18% na comparação com 2020, alcançado um total de 1,24 milhão de toneladas.
As frutas brasileiras que vão parar nas mesas mundo afora são majoritariamente produzidas em cidades do semiárido nordestino – onde, historicamente, o “cercamento” das águas deu o tom político.
Nas cidades-chave da exportação de frutas, os projetos públicos de irrigação, ou PPIs, e a captura privada das águas subterrâneas garantem abundância hídrica para o agronegócio, mas não para a população.
Segundo a Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico (ANA), nas três cidades que formam o polo da manga e da uva – a pernambucana Petrolina (PE) e as baianas Juazeiro e Casa Nova – a irrigação consumiu nada menos do que 1,5 trilhão de litros de água em 2019.
Já no polo do melão e da banana, formado por um conglomerado de cidades do Ceará e do Rio Grande do Norte, esse consumo foi de 446 bilhões de litros em 2019. Apesar de este ser o último dado disponível, as projeções da ANA são todas de crescimento da demanda hídrica nos dois polos.
Confira a entrevista na íntegra.
Durante a viagem que fizemos aos dois grandes polos de fruticultura de exportação do Brasil, ambos no semiárido nordestino, uma face até então oculta dessa produção ficou muito visível: a grande demanda por água. E como, dependendo de para onde se olha, na mesmíssima cidade, há fartura ou escassez de água, com a balança pendendo sempre em desfavor das populações locais. Você criou o conceito de latifúndio hídrico justamente para explicitar essa realidade. Poderia explicá-lo?
Latifúndio hídrico é um conceito que tem o objetivo de visibilizar o cercamento das águas no Brasil. E demonstrar que esse cercamento das águas não se dá só pelo cercamento das terras. A Siderúrgica do Pecém [localizada no Complexo Industrial e Portuário do Pecém, no Ceará] não tem nem 3 mil hectares, mas bebe mais água do que uma cidade com cerca de 1 milhão de habitantes. Ou seja, não é o tamanho da terra que determina, em si, a capacidade de apropriação da água.
Mas o latifúndio hídrico é, sobretudo, a denúncia de um modelo de desenvolvimento hidro-intensivo que, em regiões vulneráveis como o semiárido nordestino, gera um processo de concentração brutal.
Na região do Baixo Jaguaribe, onde a fruticultura de exportação se instalou no Ceará, a gente vê comunidades que vivem há mais de sete anos à base de carro-pipa.
Historicamente, essa região foi abastecida pelo rio Jaguaribe. A questão é que com a seca e com a intensificação da demanda hídrica pelo agronegócio, as águas superficiais foram esvaziadas. O rio Jaguaribe não aguentou essa dupla dinâmica: estresse climático e demanda hídrica.
Quem tinha dinheiro e capacidade técnica e informacional foi atrás da água nas entranhas da terra. As empresas traçaram suas estratégias de captura dos aquíferos – uma reserva de água que deveria ser estratégica para abastecimento humano e agricultura familiar.
Um pilar fundamental dessa história diz respeito à política de irrigação no Nordeste. O governo federal, através de órgãos como Codevasf [Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba] e DNOCS [Departamento Nacional de Obras Contra as Secas] desviou águas de rios e açudes para criar projetos públicos de irrigação, hoje dominados por grandes empresas. Qual foi o pontapé inicial disso?
Nós poderíamos dizer que há três fases da política de irrigação. Uma primeira fase, de concepção, está diretamente ligada ao [economista] Celso Furtado e à origem da Sudene [Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste]. No documento basilar “Uma política de desenvolvimento para o Nordeste”, Celso Furtado concebe a irrigação como algo complementar à política de industrialização, e tendo um objetivo: produzir alimentos. Para ele, a salvação do Nordeste estava numa mudança estrutural na dinâmica econômica que viria com a industrialização. Mas, para que isso se viabilizasse, era preciso tornar o Nordeste atrativo para as indústrias. A classe trabalhadora precisava receber salários baixos. E, portanto, seu custo de vida tinha que ser baixo também; daí a produção de alimentos. Como o Nordeste sofria com as secas e tinha crises de abastecimento alimentar – e como importar das regiões Sul e Sudeste também tornava o alimento mais caro no mercado nordestino –, era preciso ter regiões produtoras de alimentos no Nordeste.
Para tanto, ele propunha reorganizar a estrutura fundiária da Zona da Mata, e converter parte das terras usadas na monocultura de cana-de-açúcar para a produção de alimentos. E na Zona Semiárida, mais vulnerável ao clima, a produção de alimentos se viabilizaria através da irrigação.
E quais eram as características dessa política de irrigação em sua origem?
A ideia era aproveitar a água acumulada nos açudes que estavam em grandes propriedades para esses projetos de irrigação. A agricultura familiar – para usar um termo de hoje – teria um papel fundamental: Celso Furtado pensava em reorganizar a estrutura fundiária e assentar agricultores para produzir alimentos.
Nesse sentido, em 1959, ele tentou emplacar a Lei Nacional de Irrigação. Mas esse projeto de lei foi engavetado pelas oligarquias agrárias nordestinas, sobretudo aquelas ligadas à pecuária e ao algodão. O algodão não precisava de irrigação: era uma cultura de “sequeiro”. E, para os latifundiários do gado, interessava o açude. Levar essa água para irrigar outras áreas rurais não era interessante.
Por afrontar os interesses dessas oligarquias, esse projeto foi barrado no Congresso Nacional por duas décadas. Furtado passou a ser visto como um “comunista”. E essa concepção originária de irrigação como uma política de reforma agrária.
Então essa primeira fase é o que poderia ter sido, mas não foi. E a segunda fase da política de irrigação?
A segunda fase, no período da ditadura militar, é quando a política de irrigação ganha materialidade e vai se expandir pelo Nordeste. Se a concepção original era produzir alimentos a partir da irrigação, com a ditadura, essa perspectiva vai mudando. E, a partir das experiências concretas de implantação de projetos públicos de irrigação, ela vai se vincular à Revolução Verde. Eu sustento a tese de que os perímetros irrigados implantados no período ditatorial foram os indutores da Revolução Verde no semiárido.
Se a gente pegar os planos de implantação dos perímetros, as palavras “modernização” e “produtividade” sempre vêm acompanhadas do pacote técnico da Revolução Verde: mecanização, adubação, agrotóxicos, sementes melhoradas… Não é à toa que os perímetros passam a se especializar em monoculturas.
Quais monoculturas?
Tomate, arroz e algodão ocupavam mais de 70% das áreas cultivadas dos perímetros do DNOCS no fim dos anos 1970. Inclusive, o tomate não era processado no Nordeste, mas sempre vendido para agroindústrias do Sul e Sudeste que transformavam em molho, extrato de tomate, coisas do tipo.
Por que isso acontece?
Com a implantação dos projetos, viram que o custo era muito alto. E todos os estudos técnicos são taxativos: para viabilizar, precisa ter escala. E para ter escala, precisa ser monocultura. E aí, em grande medida, os perímetros vão se especializando em monoculturas determinadas pelo Estado – porque quem decidia o que era produzido era o DNOCS.
O DNOCS obrigava todos os irrigantes a seguirem seu plano anual de exploração agrícola. E proibia que eles plantassem para subsistência. O DNOCS também comprava todo o pacote técnico, determinando o quanto e o que era para aplicar. Há vários relatos históricos de irrigantes resistindo à aplicação desse pacote, porque era muito veneno e eles não viam sentido naquilo.
Esses agricultores saíram da disciplina do coronel e foram para a disciplina do Estado. O DNOCS determinava tudo – inclusive regras morais: não beber, não fazer festa no perímetro…
Isso era critério de seleção?
Sim, e reproduzia o autoritarismo da ditadura nos perímetros irrigados. Eram feitas pesquisas sobre o passado político dos irrigantes, para saber se não havia nenhum tipo de orientação “subversiva” que poderia desestabilizar a condução que o DNOCS fazia daqueles espaços. O Marcel Bursztyn, naquele famoso livro O Poder dos Donos, dá alguns exemplos dessa primeira leva de perímetros. Por exemplo, precisava ser alfabetizado – o que já excluía uma grande parte dos potenciais irrigantes. Precisava ser casado…
Tudo isso que você está falando passa a impressão de que, embora houvesse uma predominância da monocultura, os projetos públicos de irrigação eram voltados para os pequenos – algo bem diferente do que acontece hoje, quando as grandes empresas predominam. Qual foi o ponto de guinada?
Durante muito tempo, os primeiros perímetros – e, sobretudo, os pequenos perímetros –, só aceitavam os pequenos irrigantes. Eram distribuídos lotes familiares, entre cinco e dez hectares. Era um perfil de colonos mesmo. Tanto é que se previa uma área de moradia nos perímetros.
Essa implantação vai se dando antes da aprovação da Lei Nacional de Irrigação, o que só acontece em 1979. Mas mesmo essa lei é clara: quando se instala um perímetro, os sujeitos que estiverem nessas áreas desapropriadas terão prioridade para receber um lote. Esses impactados seriam cadastrados e teriam prioridade. Eles não tinham a garantia que receberiam, porque mesmo eles precisariam se enquadrar nos critérios que eram desenhados para aquele período específico, que variavam também.
Depois, com todo o debate sobre a viabilidade – entre aspas o sucesso ou insucesso dos perímetros –, várias consultorias internacionais vão ter um papel muito importante no redesenho da política de irrigação, com destaque para a FAO [Organização das Nações Unidas para Alimentação e Agricultura], o Banco Mundial e o IICA [Instituto Interamericano de Cooperação para a Agricultura, ligado à Organização dos Estados Americanos].
Em vários documentos, o Banco Mundial vai falar nas entrelinhas e, às vezes, bem objetivamente que o pequeno irrigante não é o melhor público para os perímetros irrigados. Começa uma defesa da necessidade de diversificar esse público – e, sobretudo, trazer empresas para dentro dos perímetros.
Qual é o argumento?
O argumento é que a empresa gera duas vantagens: ela vai mostrar como se produz corretamente, e pode comprar a produção dos irrigantes, virando a principal destinatária dessa produção. Ela ficaria quase monopólica.
Exemplo: a empresa planta tomate e quem quiser plantar tomate desse mesmo jeito que ela planta, compra o pacote tecnológico e, em troca, tem comprador pra essa produção. Então ela dominaria o perímetro irrigado de cabo a rabo, com todo o apoio do Estado brasileiro.
E vem um decreto para regulamentar a lei de 1979, para modificá-la. Antes, a maior área do perímetro deveria ser destinada para o pequeno irrigante. Depois, ainda no período ditatorial, isso é flexibilizado e começa a se desenhar aquele perfil de irrigantes: o pequeno, o médio e o grande. E aí começa a ter perímetros com uma estrutura fundiária majoritariamente para o setor empresarial.
Você considera que existem três fases da política de irrigação. Quando começa a terceira?
A terceira fase começa aí, com a revisão do público destinatário dos perímetros, com protagonismo para o empresariado. Desde o final da ditadura, em regra, a avaliação é sempre a mesma: a política de irrigação é cara e precisa de culturas rentáveis e de pessoas com capacidade de operar na racionalidade capitalista. Deixada na mão dos pequenos, ela vai ser levada à falência.
Isso – que poderíamos chamar de fase de neoliberalização dos perímetros – vai ganhar mais fôlego a partir do Fernando Henrique Cardoso. O governo publica um documento chamado “Um novo modelo de irrigação”, que propõe a intensificação da privatização da política de irrigação. E, em 1997, sai a Política Nacional de Recursos Hídricos. É o combo: novo modelo de irrigação, nova política; ambas sinalizando para a água como mercadoria e para um papel cada vez mais central do agronegócio.
É também no governo FHC que se consolida a indicação de que a fruticultura seria o setor da agricultura que daria viabilidade financeira aos perímetros, por ter mercado interno, nas regiões Sul e Sudeste, e externo. Os perímetros não nasceram desenhados para a fruticultura, mas foram capturados por ela.
Foram capturados de maneira geral?
Tem perímetros pequenininhos, de 100, 200 hectares. Estão abandonados, sem água, sem nada. Alguns viraram bairros, foram engolidos pela cidade. Outros produzem de sequeiro. Ou seja, estão desconectados desse agronegócio mais pop, tech, tudo.
Os perímetros que foram capturados por esse agronegócio fruticultor são, sobretudo, os perímetros de maior área. Os perímetros que estão conectados a redes hídricas que garantem segurança para o empresariado. São, portanto, os perímetros desenhados na transição dos 1980 para os 90 – e os atuais.
Exemplo é o [Perímetro Irrigado do] Tabuleiro de Russas [no Ceará]. Embora sua viabilidade tenha sido apontada na década de 60, é FHC quem implanta a primeira etapa [do projeto] e Lula e Dilma que implantam a segunda etapa, com recursos do PAC [Programa de Aceleração do Crescimento].
E o que aconteceu com as pessoas que se enquadravam naquele antigo perfil de irrigantes?
O processo geral é que grande parte dos irrigantes originários ou morreu ou se endividou e perdeu seus lotes. A pesquisadora Bernardete Maria Coêlho de Freitas estudou como esse processo se deu no [Perímetro Irrigado] Jaguaribe-Apodi e concluiu que 81% dos 316 agricultores que conseguiram lotes nas duas primeiras fases de implantação do projeto não estão mais lá.
O Perímetro Irrigado Jaguaribe-Apodi é palco de um conflito fundiário que ganhou projeção nacional com o assassinato do líder camponês Zé Maria do Tomé, em 2010. O próprio DNOCS constatou que o projeto havia sido invadido por grandes empresas, e a luta de Zé Maria era para recuperar esse espaço. Em 2014, o MST ocupou o canal principal do perímetro e resiste lá até hoje, apesar das ordens de reintegração de posse. Como você avalia a entrada do movimento social na disputa pela política de irrigação?
Há muito tempo, o MST vem com um debate sobre uma reforma agrária irrigada para o semiárido. Em regra, os assentamentos no semiárido são de sequeiro, resultantes de acordos entre os latifundiários e o Incra. De modo que o MST vem tentando elaborar essa possibilidade de assentamentos irrigados, e disputar os perímetros faz parte dessa estratégia mais geral. Ocupações aconteceram na Bahia, em Pernambuco e no Ceará.
A primeira ocupação no Ceará aconteceu no Tabuleiro de Russas. O assentamento Bernardo Marinho, do Incra, é fruto disso. Ele ficou com uma franja da primeira etapa do projeto. E não tem água. Então existe uma contradição interessante: ele é fruto de uma ocupação que conseguiu a terra, mas não conseguiu a água. Quase uma lição para que o movimento não ocupasse mais perímetros.
O horizonte político do MST no Jaguaribe-Apodi era o mesmo, com uma diferença: não ficar sem água. Nesse sentido, não se ocupa a borda, mas o centro do perímetro. Para a água chegar a determinadas empresas, ela passa pelo acampamento Zé Maria do Tomé.
Ali, havia uma conjunção de fatores que levou o movimento a escolher Jaguaribe-Apodi para a sua nova experiência de ocupação. Era uma região que tinha um conjunto de agricultores que estava perdendo toda a produção por conta da seca. E havia uma determinação da Justiça, um TAC de 2009, prevendo que uma área de mil hectares do perímetro deveria ser destinada aos pequenos. Então seria uma tentativa de garantir a reforma agrária irrigada. Só que, como o MST já sabia, ali era o olho do agronegócio cearense. O vespeiro era grande.
No semiárido, existe um conjunto de organizações que se organizou e luta pelo paradigma de convivência com as condições naturais, com o clima, com a escassez de água… Uma reforma agrária irrigada nos projetos públicos parece ser uma luta bastante distinta, não?
Existe uma escala da disputa dos recursos hídricos já alocados no território pelo fundo público. Na minha avaliação política, não se abre mão de disputar essas estruturas. Eu acho que foi um erro, mas foi a alternativa encontrada por parte do movimento de convivência com o semiárido. Eles escolheram implantar tecnologias alternativas para garantir autonomia: a cisterna, que depende da chuva, a barragem subterrânea… E, na minha avaliação, continuaram denunciando a grande política hídrica, mas não disputaram ela concretamente. Ou seja, vamos ocupar o canal? Vamos ocupar o açude? Vamos exigir que essa água não fique só com alguns?
Só que a gente já aprendeu que é impossível que o agronegócio conviva com a agricultura familiar – e que, de uma hora para outra, essas áreas, que já estão todas mapeadas, serão engolidas.
A gente aprendeu isso na pele com o Tabuleiro de Russas. A comunidade de Lagoa dos Cavalos [que foi em parte desapropriada na etapa de expansão do perímetro] tinha uma dezena de tecnologias sociais. A primeira etapa [do projeto] estava implantada há muito tempo. Ninguém foi disputar. Ninguém fez o enfrentamento: queremos essa água para expandir nossa produção. Ou queremos bloquear a chegada das empresas aqui. Deixaram a grande política sendo tocada pelo Estado, e foram disputar o pequeno orçamento para a agricultura de convivência com o semiárido.
A convivência com o semiárido só terá viabilidade se ela conseguir anular, destruir e reorientar a grande política hídrica. Porque, do contrário, é um espaço de reserva esperando a próxima expansão de algum vetor, seja agronegócio, seja [energia] eólica, seja solar – como está acontecendo agora.
O ano passado parece ter complexificado ainda mais esse cenário, pois foi quando o governo federal tirou do papel uma ideia que vinha já do governo Lula 2, de conceder os projetos públicos de irrigação para o setor privado. Baixio do Irecê, na Bahia – maior projeto de irrigação da América Latina – teve metade da sua área leiloada em junho de 2022 por R$ 83 milhões. Estamos falando de 50 mil hectares, sendo 35 mil deles irrigáveis, concedidos por 35 anos. Na sua avaliação, essa poderia ser uma nova fase da política de irrigação?
Isso é pouca coisa quando a gente compara com o Centro-Oeste, onde uma propriedade de 30 mil hectares não é nada. Mas irrigar no semiárido não é regra – é exceção. Para quem quiser produzir no Nordeste, com as condições climáticas do semiárido, ali é o filé. E não é qualquer filé. É o filé do São Francisco, o maior rio que atravessa o Nordeste, que tem maior viabilidade hídrica.
Então é sintomático. Ao leiloar uma infraestrutura pública, um investimento feito com o fundo público, o governo federal está deixando claro a quem, cada vez mais, se destina esse tipo de projeto.
Se a política de irrigação teve, em sua concepção originária, alguma função social, alguma inclinação de construir um projeto de desenvolvimento nacional e de diversificação da nossa estrutura produtiva, hoje – e cada vez mais com essa privatização –, a lógica de uso da terra e da água será calibrada pela rentabilidade do capital.
Ou seja, quem vai usar essa terra e essa água é quem oferecer o projeto que viabilizar a melhor saída econômica. Nenhuma consideração ambiental, nenhuma consideração social, nenhuma consideração sobre projeto de nação. Os perímetros irrigados vão entrar cada vez mais umbilicalmente na lógica da comoditização completa.
Até então a gestão ainda era pública, o que não garantia nenhuma orientação social plena, mas uma mudança de governo poderia reorientar essa política. Agora, com a concessão desse patrimônio por décadas, a métrica que será utilizada com certeza não será a que nos interessa. Mas esse cenário, na minha avaliação, é o que se avizinha. Num governo Bolsonaro isso seria mais óbvio. Num governo Lula, vamos ver as cenas dos próximos capítulos.
Fonte: O Joio e o Trigo